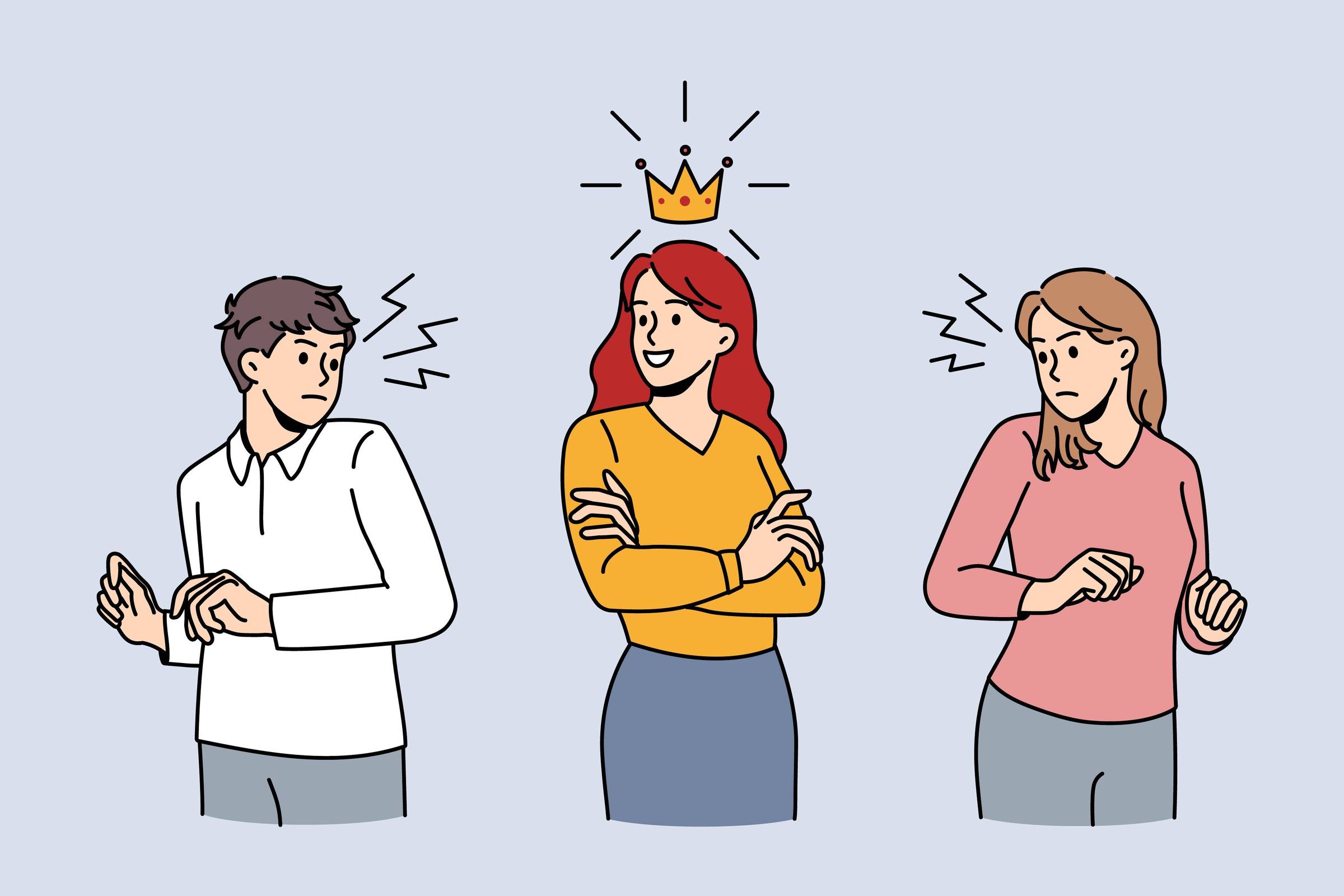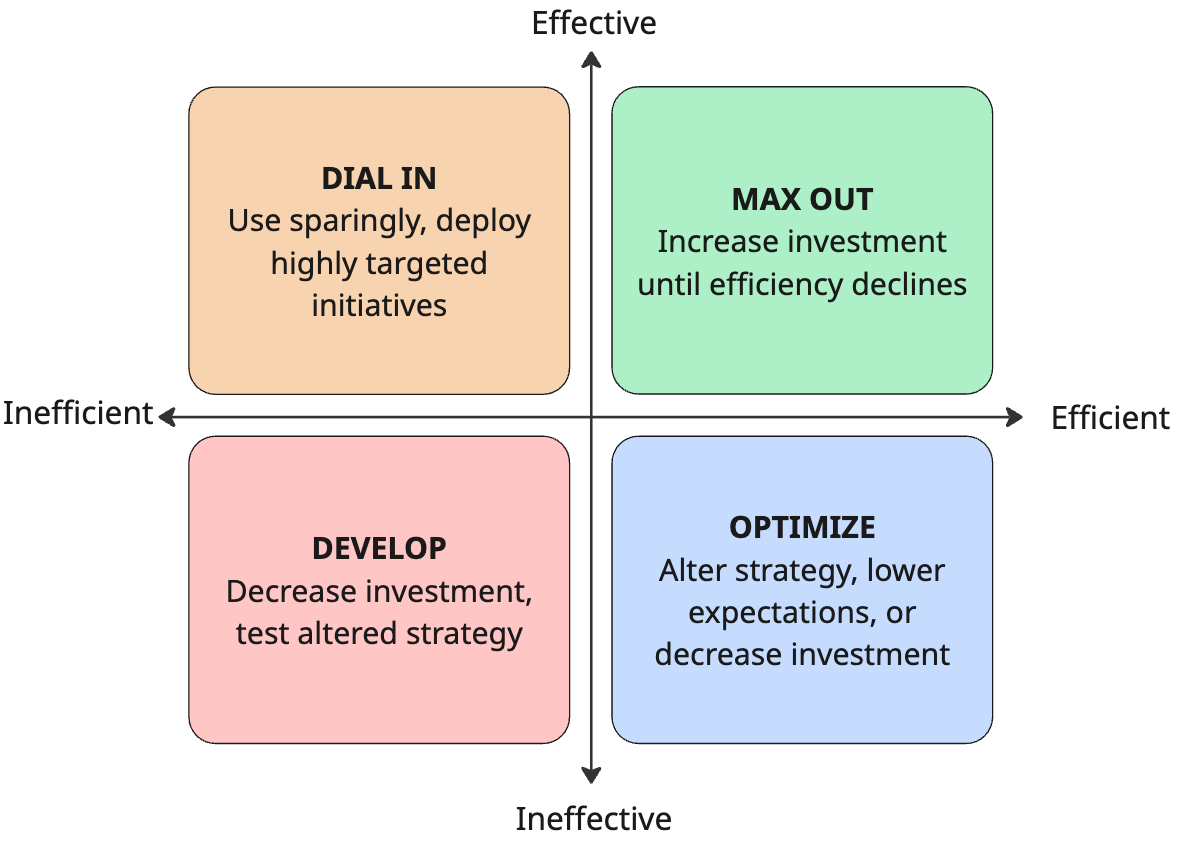Clint Eastwood era um zero à esquerda em 1964. Fora figurante em filmes B tipo “Helena de Troia” e “Quo Vadis?“. Fazia um caubói de segunda num seriado de terceira, “Rawhide“. Com 34 anos, passara da idade para ser galã. Os americanos chamam gente assim de “loser”.
O italiano Sergio Leone estava na mesma vala. Com pseudônimo, dirigira filmes C em que marmanjos de saiote trocavam sopapos greco-romanos, “Os Últimos Dias de Pompeia” e “O Colosso de Rodes”. Sabia o que queria, e o que queria era esdrúxulo: fazer faroestes.
Conseguiu um dinheiro e foi atrás de um ator ianque. Buscava um gajo alto, esguio, de olhos claros; Henry Fonda, James Coburn ou Charles Bronson. O agente do primeiro nem lhe passou o roteiro. O segundo pediu um cachê maior que o orçamento do filme. O terceiro achou o roteiro um lixo.
Um amigo sugeriu que assistisse a “Rawhide”. Leone viu um único episódio e convidou Clint Eastwood a ser o astro de “Um Punhado de Dólares“. O resto é história: o “loser” virou estrela de primeira grandeza. Vinte anos depois, num depoimento ao American Film Institute, o italiano explicou com uma parábola que diabo enxergara no desconhecido.
“Quando perguntaram a Michelangelo o que vira em determinado bloco de mármore, escolhido entre centenas de outros, ele respondeu que vira Moisés”, contou. “O que eu vi em Clint Eastwood foi, pura e simplesmente, um bloco de mármore.”
Leone não fez um filme equivalente ao Moisés de Michelangelo. Mas inaugurou um gênero, o western spaghetti, e narrou, na trilogia “Era uma Vez“, a dilatação do capitalismo nos Estados Unidos de 1870 a 1968. Tornou-se artista. De quebra, inventou Eastwood.
Já o bloco de mármore pariu uma armadura. Suas rugas verticais parecem talhadas a formão; os lábios finos ciciam ameaças — como com a célebre frase “make my day”—; tem a graça de uma gárgula; a manopla empunha a Magnum .44; os olhos contraídos irradiam raiva; a tensão é de quem vai dar porrada.
Dentro e fora das telas, Dirty Clint personifica Dirty Harry, o paladino da trilogia iniciada em 1971. É o meganha marrento que viola a lei para impor a ordem. O mau e o mal que perpetram malefícios e maldade.
Na recém-publicada “Clint”, a mais recente de uma dúzia de biografias, Shawn Levy diz que o ator e personagem se fundiram para dar origem a “um símbolo do espírito e da psique americanas, um homem ordinário com interesses e gostos ordinários”.
Em sendo assim, é vaidoso (fez implante capilar e malha diariamente). Ama conquistar e procriar (seis filhos de oito mulheres). Não tolera chefes (criou uma produtora para filmar só o que quer e como quer). Empenha-se em enricar e acumular (patrimônio de US$ 400 milhões). É um direitista da ala de Átila (militou no grupo “Celebridades Pró-Nixon“).
Seus 95 anos coroaram-no com a aura de sumidade, senão sábio. O 40º filme que dirigiu, “Jurado Nº 2“, foi lançado no ano passado. Não atuou nele, mas foi ator em outros 60; 16 deles depois de assoprar 75 velinhas. Ninguém é páreo para ele: Martin Scorsese dirigiu 42 filmes, e Steven Spielberg, 36 —e eles não são atores.
É rápido no gatilho e no trabalho. Se colegas gastam dois meses nas filmagens, ele leva um. Disciplinado, emprega a mesma equipe há milênios, fala pouco, exige silêncio e, para insegurança do elenco, não ensaia nem repete cenas: é sempre a primeira tomada que vai para a edição final.
Tem um pretexto estético: a primeira filmagem é a mais espontânea, e é precisamente isso que procura. Tem também uma justificativa econômica, que não divulga: com a rapidez, economiza dinheiro, agrada os investidores e aumenta a rentabilidade da sua mercadoria, os filmes.
No plano estético, a velocidade imprimiu espontaneidade à sua obra. Mas com ela vieram sequências simplórias, cenas recorrentes, a padronização e o automatismo que são inerentes à indústria cultural.
Gente séria o admirava. Norman Mailer comparou-o a Hemingway e escreveu: “Talvez não exista ninguém mais americano que Clint Eastwood. Que artista interessante”. Mas nem todos.
Pauline Kael via no seu sucesso a normalização do sadismo, da estupidez e da grosseria, sinais de uma sociedade numa espiral de vulgaridade e apodrecimento.
Corta para o dia 25 de fevereiro de 2020. A pandemia matava aos milhares e Jair Bolsonaro, então presidente, difundiu numa rede social vídeos convocando uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso.
Em seguida, postou sua foto assistindo a um faroeste na televisão. A legenda dizia: “Boa noite a todos! Clint na tela!”.
Fonte ==> Folha SP