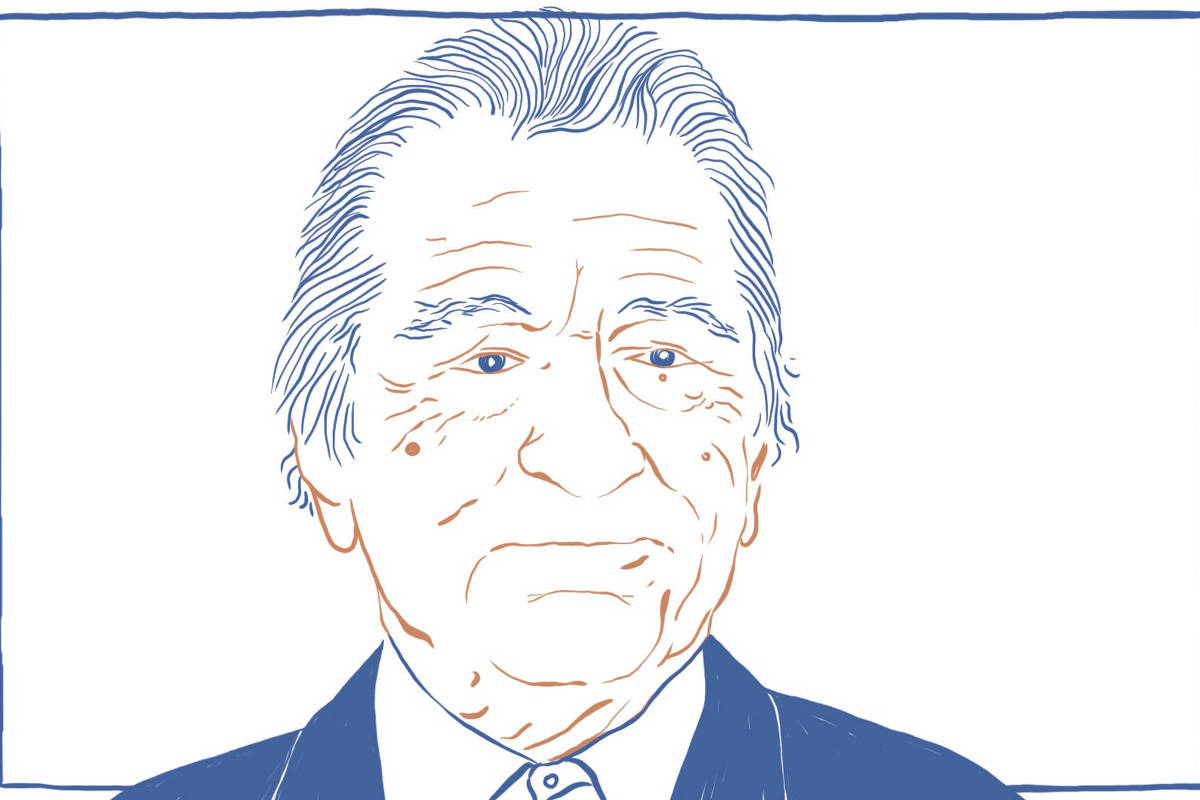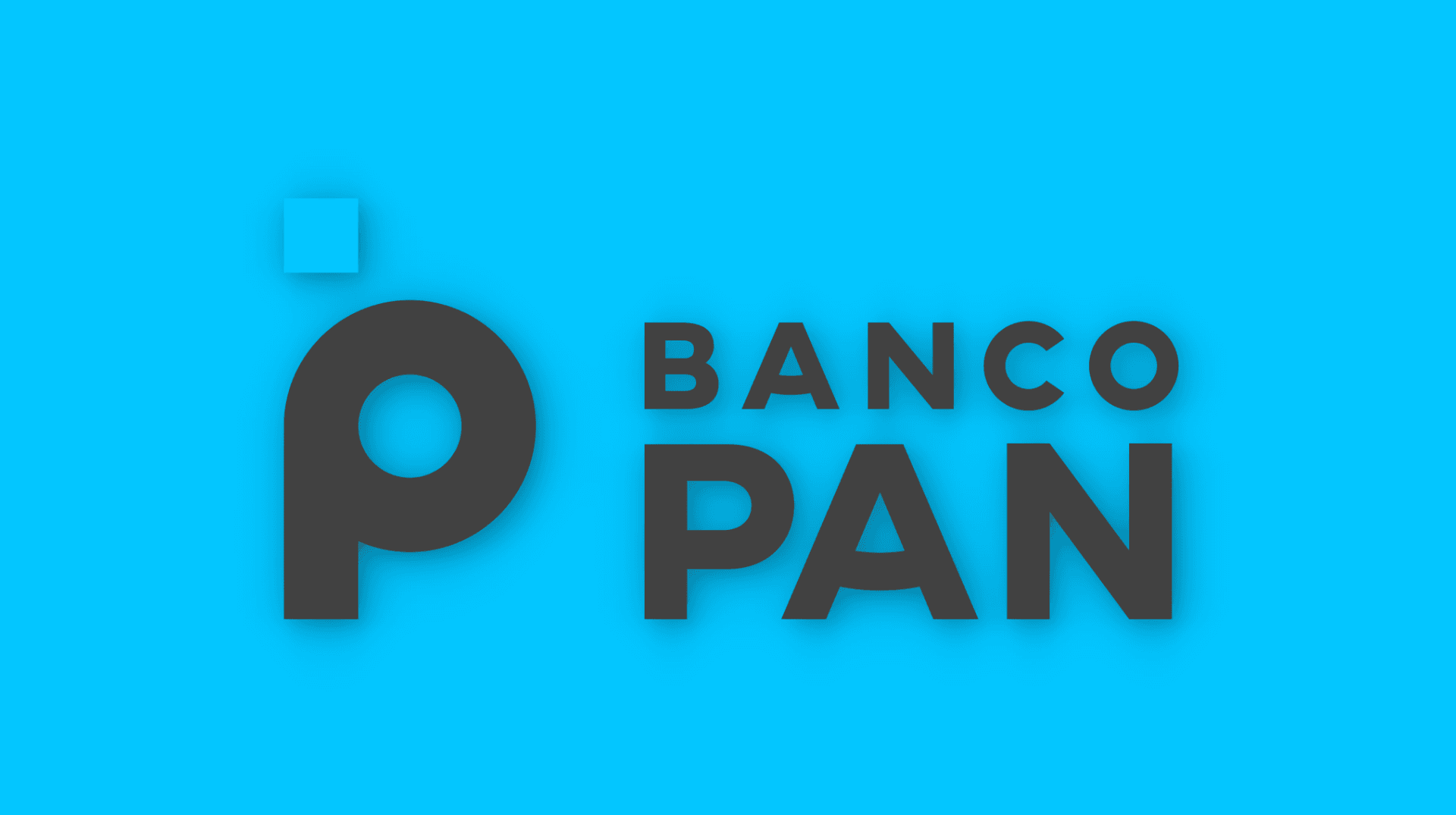Não há dúvida de que Robert de Niro é um dos grandes atores da geração norte-americana na faixa dos 80 anos. Não é o melhor de todos porque, além de inexistirem critérios objetivos para avaliar o trabalho artístico, há outro totem na tribo: Al Pacino, de 84 anos.
A maior diferença entre os dois é o teatro. De Niro tinha mais de 40 anos quando debutou na Broadway, na peça “Cuba and His Teddy Bear”. Foi a primeira e última vez que pisou num palco. É ator de cinema. Querido pelo público e exaltado pela crítica, é um dos mais ricos de Hollywood; tem um patrimônio líquido de meio bilhão de dólares.
Além de 11 filmes com Martin Scorsese, foi dirigido por Michael Cimino (“O Franco Atirador”), Bertolucci (“Novecento”), Terry Gilliam (“Brazil”), Sergio Leone (“Era uma Vez na América”), Brian de Palma (“Os Intocáveis”), Roland Joffé (“A Missão”), Tarantino (“Jackie Brown”). Sem ele o cinema não seria o mesmo, tantos e tão bons são os filmes que fez.
Pacino também esteve em grandes filmes. Mas deu os primeiros passos num palco e nunca mais saiu. Fez peças de Tennessee Williams, Brecht, Oscar Wilde e sobretudo Shakespeare: Shylock em “O Mercador de Veneza”, Marco Antonio em “Julio Cesar”, o rei em “Ricardo 3º” —tema de “Looking for Richard”, o documentário que dirigiu. É ator de teatro.
De Niro chega aos 82 anos a toda. Na televisão, estreou no streaming com “Dia Zero”, uma das séries mais vistas da Netflix. No cinema, é o duplo protagonista de “The Alto Knights – Máfia e Poder”. Na vida privada, por fim, é o pai zeloso de uma menina de dois anos –sua filha mais velha tem 53.
Os organizadores do Festival de Cannes irão homenageá-lo no mês que vem com uma Palma de Ouro Honorária. Na justificativa do prêmio, disseram que é “um mito”, “encarna a sétima arte”, “marcou os cinéfilos para sempre”.
“Dia Zero” fala de paranoia política, complôs, teorias da conspiração. É primo distante de “Sob o Domínio do Mal”, com Frank Sinatra, “A Trama”, com Warren Beatty, e “Três Dias do Condor”, com Robert Redford. Embora os temas sejam antigos, a trama é atual porque no seu centro está a polarização.
De Niro faz o respeitadíssimo ex-presidente George Mullen. No Brasil, ele seria a mescla inimaginável de Fernando Henrique e Dilma –e só se não tivessem disputado o segundo mandato, no qual se estreparam. Mullen se contentou com quatro anos de Casa Branca e ganhou a aura de reserva moral.
Ele escreve as memórias quando um ataque cibernético derruba a energia elétrica, algo corriqueiro em São Paulo, mas que nos Estados Unidos é crime –no caso, um ciberataque. A presidente em exercício (Kamala Harris ressuscitada) o convoca para descobrir quem é a Enel de lá.
Mullen não aponta o dedo para os suspeitos de sempre, os russos. Suspeita até da sombra porque tem alucinações, vê gente morta e, coitado, escuta o tempo todo “Who Killed Bambi?”, dos Sex Pistols. É fora de si que encara o filho insano de Eduardo Cunha com Arthur Lira e engaiola golpistas por tempo indeterminado. Terá superpoderes x andrônicos?
Falando sério: de Niro está impecável. Não sorri nunca. De tão cerrados, seu lábios sumiram. Expõe sem pejo o pergaminho enrugado em que seu rosto se tornou. Todavia, sua atuação não se destaca. O problema não é ele, mas o meio. Ninguém sobressai na televisão porque a tela pequena apequena, padroniza as pessoas. Nela não há atores inesquecíveis.
É melhor vê-lo em “The Alto Knights”, um filme tolo que diz algo do tempo em que estamos entalados. Está passando só num cinema, o Kinoplex Itaim, numa sessão por dia. Está fadado a repetir aqui seu fiasco planetário: custou US$ 50 milhões e rendeu US$ 15 milhões.
De Niro encarna a figura que o celebrizou, o gângster. É como comparsa do crime organizado, como metonímia da acumulação primitiva, que ele fulgura em “O Chefão 2”, “Era uma Vez na América”, “Os Intocáveis”, “Os Bons Companheiros”, “Cassino”, “O Irlandês”.
Tristemente, seu talento trágico cedeu lugar à técnica em “The Alto Knights”. Ele faz dois gangsteres de carne e osso, Vito Genovese e Frank Costello, e quem não tem osso nem carne é De Niro. Os bandidos são totalmente diferentes um do outro, e nem de longe parecem o ator. Contracenam, dialogam, agem em uníssono –mas são só aparência.
De Niro morreu. Quem tomou o seu lugar é um simulacro, um fetiche espectral, o homem robotizado que serve de síntese para a sociedade: não morrerá nunca, desde que seja para sempre um autômato.
Colunas e Blogs
Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha
Fonte ==> Folha SP